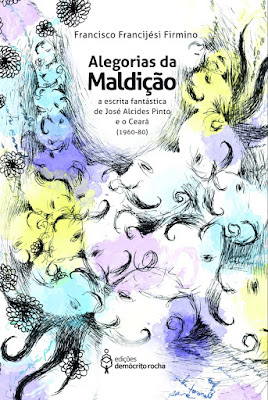|
| [Ilustração, de Karlson Gracie, no livro Alegorias da maldição] |
Como foi conviver com
José Alcides Pinto? Por quanto tempo manteve esse contato?
A palavra “conviver” parece significar “muito
tempo na companhia de uma pessoa” (risos). Conheci José Alcides Pinto [JAP]
ainda na graduação em História, acredito que por volta de 2003, quando decidi
fazer o trabalho monográfico sobre o primeiro livro da Trilogia da Maldição, O
Dragão. Depois disso, somente voltei a ter contato com ele em 2007, momento
da escrita da dissertação, analisando já os três romances da referida trilogia.
JAP gostava de ter por perto quem se propunha a discutir sua obra. Reclamava
inclusive que deveríamos conversar mais vezes. Nos anos de 2007-8, morávamos
próximos em Fortaleza, eu ia caminhando até sua casa. O problema dessa
convivência era que eu ficava com dificuldades de interpretar sua obra quando
conversávamos. Existia em JAP a não aceitação de sua escrita como localizada no
tempo e no espaço, a velha rixa que Dominique Maingueneau diz haver entre o
literato e a história: a vontade de ser Universal. E é difícil, até
psicologicamente, discordar do autor sobre sua obra a todo o momento (risos).
Eu saía das conversas muito confuso, quase convencido de que ele era um
iluminado, para além de tudo e todos. Tanto que meu primeiro texto sobre JAP,
não sei como, mas queria, num Mestrado em História, defender a não
historicidade do autor. Quando me dei conta dessa loucura, achei por bem me
afastar. E não o vi mais antes de sua morte, ocorrida durante o final da
escrita do trabalho. O fato de gostar muito da pessoa do Zé, acabou também
dificultando a violência hermenêutica que nos propomos a fazer num trabalho
“acadêmico”.
Nos agradecimentos de Alegorias da maldição você diz que riu
muito com o José Alcides. Que outras facetas da personalidade do autor lhe foi
possível observar e que você destacaria?
Bem, agradeci às várias pessoas que me fizeram
rir. Foi um momento tão tenso para mim que, a quem me desce pequenas alegrias, senti-me
obrigado a ser grato pelo texto do livro (risos). JAP foi uma pessoa muito
divertida. Acredito que a grande face de José Alcides era ter muitas faces, ser
autor de si assim como de suas personagens. Essa característica marcou não
somente a mim, mas a tantos que tentaram decifrar no rosto que viam
pessoalmente o autor da obra. E tantos eram os rostos quanto variada a obra. Notadamente,
JAP assumia a escrita como algo visceral, querendo dar vazão no cotidiano a uma
(in)coerência que possuía no texto, o contrário também pode ser verdadeiro.
Assim, foram construídas as mil histórias contadas sobre ele e as que ele
contava sobre si. Foi o homem que vestiu trajes franciscanos e que se dizia
adepto ao zooerotismo, pois assim também fora São Francisco. Daí em diante...
Do seu convívio com José
Alcides, foi possível identificar qual era a sua relação com outros literatos
cearenses? Quais eram aqueles de sua convivência mais próxima? Qual a sua
relação com as gerações mais novas?
Eu acredito que a
convivência e aproximação com os literatos cearenses foram maiores do que ele
próprio admitia. Isso porque foi no seu retorno ao Ceará, depois de ter morado
no Rio e no Recife, que começou a se interessar pelas temáticas da literatura
regionalista; é nesse momento que ser cearense, ou talvez, nordestino,
tornou-se elemento mediador de seu sentido de pertença ao mundo como escritor.
O contato com o Clube de Literatura e Arte Moderna, o Clã, desde 1940 fundado
no Ceará, ajudou-lhe a compreender o Regionalismo de modo não distante de uma
proposta “universalista” de literatura, posição da qual, em terras alencarinas,
segundo o que eu tive contato, Artur Eduardo Benevides e Fran Martins eram os
principais defensores. Também, ele foi um dos fundadores do Movimento Concretista,
no Ceará, que – embora eu não acredite que o grupo cearense pretendeu seguir a
risca a cartilha paulista -, gerou muita polêmica entre literatos. O fato é que
no Ceará não houve um movimento regionalista-tradicionalista rígido como em
Pernambuco, com uma posição clara contra os muitos experimentalismos estéticos.
Acredito que isso acabou montando diversos platôs de diálogo. Nos dois livros
intitulados Política da Arte, que
reúne parte dos textos de JAP como crítico literário, esses diálogos entre
regionalismo e experimentalismo pareciam em muito repetir a posição de outros
literatos cearenses.
Quanto aos mais
próximos, acho difícil definir. JAP se referia a muita gente, talvez até pelo
universo de escritores não ser tão vasto; de algum modo, todos os que
publicavam com constância estavam em contato. Creio que as gerações posteriores
a JAP têm-no por referência na construção de uma literatura fantástica e
pornográfica.
Por que a Trilogia da
maldição? Penso aqui no texto com que você abre o seu livro, no qual, numa
narrativa criativa (literária), você diz que em sua busca por escrever uma
história do Ceará, lidando com uma série de textos, "o Tempo"
(antropomorfizado) e um vento, varem todos esses textos deixando intacto apenas
um livro, Trilogia da maldição. Por
que essa opção para abrir, para ser a primeira escrita (aquela que recebe o
leitor) num trabalho de história? Pensando nessa relação história/literatura, o
que esse mergulhar nos meandros do afazer literário trouxe a seu olhar sobre a
história e sua escrita?
 |
| José Alcides Pinto (10/09/1923-02/07/2008) |
Acredito que escrever mais literariamente é uma
vontade do historiador que gosta de literatura e a escolhe como fonte. Talvez
seja uma das intromissões deste tipo de fonte no trabalho. Além do mais,
senti-me incomodado pelo meu texto pretender-se tão realista ao tratar de
substâncias fantásticas. Na dissertação, há mais momentos assim do que no
livro. Fiz a opção por exclui-los. Lembro que, no texto da dissertação, eu abri
os dois primeiros capítulos com narrativas inteiramente literárias. Isso se
deveu em muito ao entusiasmo com que eu descobri o conceito de alegoria. Para
mim, ele conseguia expressar a história e me servia como uma espécie de exordio;
achei, na época, que funcionaria bem. Depois acreditei ser excessivo, quando me
tornei leitor de mim mesmo (riso). Hoje em dia, encontro-me mais do que nunca
em crise com a escrita do livro. Acho um texto quase intransponível. Deveria
ter saído da aridez dos conceitos e me tornado mais literário a fim de tornar a
escrita mais fluída. Mas foram as opções feitas na época, que acredito não foram
as melhores. É estranha a morte que o texto terminado operou em mim. Me
pergunto por qual motivo não fiz isso, ou aquilo. Mas depois de mandado para a editora,
está terminado. No momento da escrita, não imaginei fazer o livro para qualquer
leitor. Somente para os que gostavam de peripécias de raciocínio. Só depois
percebi que tinha esse leitor em mente, intensamente apaixonado por filosofia e
estética, no momento de produção do
texto. Hoje me culpo por não ter construído a consciência disso antes. Teria me
dado mais liberdades narrativas, atentado menos para o que eu considero,
pensando em outras possibilidades de leitores, elementos “prolixos” do texto, me
prestando a fazer citações “bem baratas” (risos) a fim de agradar um imaginado
paladar textual.
Houve dificuldades
quando decidiu ler e escrever a história a partir de uma escrita literária
fantástica? Como foi levar adiante o gesto irônico, como você define, de
"apontar a historicidade de um escritor que buscou destituir a
possibilidade de uma escrita historiográfica" [p. 235]?
Desde a primeira leitura do livro A Invenção do Nordeste, de Durval Muniz
Albuquerque Júnior, senti que o livro me dava elementos para compreender um incômodo
que eu sentia em relação à literatura regionalista. Fiquei entusiasmado com os
conceitos. E como gostava de JAP e da Trilogia,
e via nela muitos elementos citados no livro de Durval, achei que seria
possível dar vazão a esse entusiasmo inicial tendo a Trilogia como fonte de pesquisa. Depois eu descobri ser aquele o
primeiro passo, apenas. Havia muita araucária ainda para derrubar no intuito de
situar e compreender JAP. A escolha da Trilogia
ocorreu assim, meio pela minha imaturidade, ainda não superada hoje, meio por
gostar do que eu havia lido. A historiografia atualmente afirma ter abandonado
os referenciais de constituição do realismo sobre o passado produzidos pelos
autores da História Cívica, ou Escola Metódita, e o fez. Contudo, pouco se
confrontou com fontes que questionavam diretamente a noção de real. A História,
mesmo gostando de literatura e cinema, ainda prefere tratar dessas expressões
quando se constroem dentro de códigos de verdade específicos, numa
verossimilhança estrita. Pelo menos, é assim com a historiografia sobre a contemporaneidade.
A regra não se aplica, por exemplo, a historiografia medieval, que tem de lidar
com outros códigos de realidade. A escrita fantástica é inclusive uma invenção
moderna e contemporânea, quando o aporte da cientificidade foi retecendo os
modos de como a verdade deveria ser narrada. O epiteto fantástico surgiu a fim
de definir uma escrita que poderia ser aceita pelas qualidades literárias, mas
não como expressão das coisas do mundo. Em grande medida, debruçar-se sobre o
fantástico é questionar essa separação entre forma e conteúdo e afirmar que
sim, que é um tipo de escrita que trata do tempo e do espaço em que foi
produzida. Por outro lado, não somente a historiografia desprezou a escrita
fantástica. Muito comumente, tal literatura quis fazer-se apesar da Historia,
quis constituir-se de códigos que remeteriam ao atemporal. Acredito num repúdio
mútuo que deva ser quebrado. Afinal, como já venho dizendo, é necessário assumirmos
compromisso com a tentativa de compreender o fantástico; ele pertence ao nosso
mundo. O cinema e a literatura, inclusive, best-sellers e filmes do circuito
hollywoodiano, trazem a verve do fantástico, ou mesmo, de modo mais genérico,
do alegórico, quando querem produzir outras formas de mundo e realidade. A
evasão de nossos antigos códigos de verdade, acredito, tem uma atenção
privilegiada em nosso tempo e não podemos deixar de pensar sobre isso.
No seu trabalho você
lembra a origem humilde de José Alcides Pinto [p. 26], destacando-a como uma
diferença em relação à maioria dos literatos nordestinos seus contemporâneos.
Que marca essa diferença traz a sua literatura?
 |
| Francijési Firmino |
Acredito que nenhuma que eu possa supor com
clareza. Afinal os signos da chamada
literatura regionalista embora seja uma expressão de uma “classe”, um registro
do regional com fortes características elitistas, tornaram-se signos
disseminados numa tal medida que não se pode inferir com nitidez se um autor
teria intensão ou não de defender uma classe. Tornaram-se elementos para pensar
o Nordeste, pervagando pelos mais diversos estratos sociais. A biografia
apareceu na minha analise de JAP mais pela vontade de situar o autor no espaço
e no tempo, buscando as referências com as quais foi se constituindo como literato.
Não sei se consegui, mas não queria colocar esses aspectos biográficos como
explicativos da poética. Eles são meios para ajudar a leitura.
"O alegorista exige
mais de seu leitor". Isto está dito no seu trabalho [p. 31]. No caso de
José Alcides Pinto, o que ele "exige mais" de seu leitor em relação a
seu olhar sobre o Ceará?
Bem!
Exigiu muito de mim, acho que esse ponto da escrita foi uma reclamação minha
quando percebi aonde tinha me metido (risos). Acredito que essa “exigência
maior” seja a de tentar reconhecer uma racionalidade na superfície da escrita.
Esse tem sido eminentemente o drama da Antropologia Simbólica ao tentar
entender as razões de ser de algumas práticas cotidianas. Eu tento fazer algo
semelhante, mas com a escrita fantástica. Transformar o livro, a escrita de um
livro em uma prática, por vezes, tão paradoxal e estranha à analise como os
modos de fazer do dia-a-dia das pessoas.
Com a diferença, óbvia e tranquilizadora, de ter a prática que eu
analiso razoavelmente fechada, em texto, mas aberta e escorregadia em termos de
interpretação. Acredito que toda a escrita é um ato de tradução e expressão dos
contatos com o tempo e o espaço. Algumas vezes, essa tradução é mais óbvia,
como alguém que sente saudade de algo, ou que aponta claramente a que coerência
serve o seu escrito. As narrativas mais vertiginosas, fantásticas e alegóricas
não são exatamente assim. Elas nos confundem, nos colocam dentro de uma areia
movediça de significados. Parece que a coisa não tem mais o mesmo sentido que
possuía antes de adentrar naquela escrita.
José Alcides produziu o atordoamento, a vertigem,
trazendo para o texto um conjunto de matérias de expressão que montam um
verdadeiro índice para sua tradução, como se compreendê-lo fosse algo
semelhante a decifrar códigos de sentido. Cada uma dessas matérias torna-se um
signo cujo significado, ou melhor, significados, têm que ser buscados na
textualidade da obra, um dado que precisa ser verificado dentro de uma
semiologia própria que atribui ao registro a marca de ser, senão uma outra
língua, mas uma linguagem que se diferencia, um dialeto sinuoso dentro dos
regimes de realidade com os quais lida. Então a obra não se entrega ao leitor,
ela não diz o que pretende. As páginas passam dando a constante sensação de que
negam a existência e a verdade das coisas, mas, ao mesmo tempo, diz que outras
existem não como reais. Eu quase enlouqueci até perceber que precisaria montar
uma gramática e um léxico específicos para a compreensão do fantástico de JAP,
até que cheguei a um lugar que acreditei ser o mais possível. O fantástico de
José Alcides trabalha com verdades antigas e que seu tempo considera
ultrapassadas, com um conjunto de referências, de personagens que entulham e
confundem as temporalidades. Os antigos símbolos, as velhas fotografias e
teorias sobre o espaço reaparecem como fruto do delírio, do fantástico ou do
fantasmagórico, como sombras, vestígios, fragmentações, migalhas de passados
recompostos. Julgando-os perdidos perante o Nacional-Desenvolvimentismo, José
Alcides edificava novos lugares para a identidade caduca, realocando-a não mais
como a invenção de um real, mas como fabricação de uma fantasia, um sonho, de
modo que, justamente por não mais constituir o idêntico, pudesse conservar os
lugares-comuns das narrativas sobre o espaço. O fantástico de José Alcides
opera um retorno metaforizado das linguagens que construíram identidade sobre o
sertão e o sertanejo. Embora queira dar fala àquilo que considera reprimido,
não é este por fim o objeto de sua expressão: o que ele consegue é traduzir o
conflito das temporalidades. O fantástico, por conseguinte, quer ler o mundo
que emerge pelos signos dos tempos que morrem; quer atualizar os referenciais,
excluídos dos regimes de realidade, para dar-lhes novamente, senão a validade
que os insere junto ao real, mas dizê-los filosóficos e poéticos. Ser próximo
ou não a uma experiência de real não era importante a JAP. Pelo contrário,
queria tonar fantástico tudo que parecera real.
Você diz que "a
escrita fantástica possibilita a experimentação da 'segunda vida' dos regimes
de verdade" [p. 32]. O fantástico de José Alcides Pinto seria a
"segunda vida" de que verdade(s)?
Pode ser segunda, ou terceira, mas acima de tudo
é outra via. Usei “segunda” pois percebo que em Bakhtin o termo expressa bem o
sentido da “carnavalização” da escrita, dos sentidos ante os regimes de verdade
sobre o sertão.
Você postula que o
sertão de José Alcides Pinto, mais que um espaço, é uma memória, uma
"alteridade do presente" em que ele escreve. Isso é algo de que ele
era consciente?
Bem, acredito que não. Mas como não fazemos mais
apenas a história da consciência, me sinto livre para, por meio da
verticalização da leitura sobre a obra, interpretar tal coisa. Acho a questão
da intencionalidade do autor praticamente morta. E quando pensamos na noção
antropológica de “cultura”, ou em como se raciocina o conceito de
“interpretação” atualmente, me sinto ainda mais aliviado. Afinal, aquilo que
chamamos de cultura é comumente inconsciente aos que a praticam. Lembro-me de
Certeau ao tentar tratar a inconsciência como elemento constitutivo da
realidade “ordinária”, da realidade das práticas, e não excluo a escrita como
uma prática social. Eu acredito que a busca melancólica da evasão é um traço da
aventura escrita de JAP, talvez descoberta junto às suas proximidades com o
surrealismo. E se tem algo semelhante a uma escola literária a que JAP se
aproximou foi o surrealismo. O sonho e a mística são marcas em toda sua
escrita. As ambientações, com poucas exceções, rementem ao onírico. Isso me
leva a discutir o conceito de memória em JAP; ela não é translúcida como entre
os autores da chamada Escola de 1930. A memória é onírica, é turva, repleta de
esquecimentos e vertiginosamente alentadora. Aparece na escrita a incredulidade
na memória e de como ao lembrar se finda por inventar. Existe uma memória
assumidamente alucinada funcionando aí. Mistura o ouvido, dito e sonhado com o
visto, confunde o imaginado com o vivenciado. Acredito também que devamos nos
perguntar (imaginar) sobre a própria experiência criativa. JAP me falava de que
os bons romances são escritos de uma vez, óbvio que ele fala da sua experiência
em contato com a defesa da escrita automática surrealista. Mesmo que no caso de
JAP, isso é feito com o brutal ato de revisão posterior. Penso nessa escrita que
somente descobre o sentido e a sua coerência depois de se escrever e não
escrever em busca de um sentido, mas tentar adaptar à folha de papel uma imagem
esvoaçante e etérea que se tem na mente. A coerência do texto literário não
segue os mesmo critérios, por exemplo, lidando com um extremo, de um tratado
filosófico. É bem mais uma coerência de enredo do que do raciocínio. O sentido
dela deve ser perscrutado a posteriori do
próprio ato de escrita.
O que mais o
impressionou na sua leitura dos "fiéis escudeiros" (os críticos
literários) de José Alcides Pinto?
Sem dúvidas, a forma como parte da crítica
literária cearense (só para ressaltar, escrevo que somente parte, não são todos
que estudam literatura no Ceará que fazem isso) escreve trocando elogios. Obviamente, o elogio
é necessário, mas a crítica é profícua dentro dos processos criativos. E quando
falo de crítica não implica somente em encontrar defeitos. Mas o feedback do processo criativo. Acho o
modo como o cinema, por exemplo, realiza o filme o ideal para a literatura. Toda
pessoa que escreve deveria produzir uma ficha técnica, semelhante a roteirista,
produção de arte, figurino etc. Deveria ter lugar para isso nos currículos,
tipo discutidores do livro de fulano, ou seja, pessoas que serviram para forçar o processo criativo, lhe questionando
ao extremo; solucionadores, ajudam a produzir soluções aos problemas lançados
pelos discutidores (risos), assim em diante. Os literatos cearenses são carentes
de elogios e acabam, de alguma forma, solucionando isso entre si. O Grupo Clã,
que eu citei mais acima, deixa claro esse desgosto pelo pouco reconhecimento,
pela falta de espaço no mercado editorial etc. Nilto Maciel tem um conto, que
diversas vezes pensei em inserir na dissertação, no qual um estudioso de
literatura, alemão, vem ao Brasil ansioso para conhecer Moreira Campos.
Acreditava que ao chegar por aqui todos saberiam quem era esse autor por ele
tão quisto. Quando tenta encontrá-lo, contudo, ninguém o conhece. Me permitindo
o pecado de não citar muitos nomes, além de Moreira Campos, autores como Artur
Eduardo Benevides e Fran Martins deveriam ter mais a atenção dos interessados
por literatura. Conheço pouco da literatura mais recente.
Sua identificação como
um indivíduo místico, foi mais um mito da criação de José Alcides?
José Alcides era místico, sim. Ele usava isso
como meio de causar frisson e boataria também. Fez uma promessa e usou os
trajes franciscanos durante um ano. Devoto de Santa Rita de Cássia, lia Santa
Teresa D’Ávila e São João da Cruz. Um dos conceitos que eu passo quase correndo
no livro é o de mística. Acredito existir um traço barroco muito forte no texto
alcidiano, inclusive sua composição alegórica traz muitos elementos das reações
místicas sucedâneas à arte renascentista: a descrença no saber humano e na
memória, o mundo terreno visto pela noção de morte etc. A mística alcidiana é o
que permite a existência de sua leitura fantástica do mundo, das coisas como
possuidoras de sentido latente mágico, da vida cravejada de sinais não
identificados pelas limitações da Razão. Esse raciocínio sobre si permite-o não
ser incoerente sobre as histórias que contava a seu respeito. Afinal, a verdade
sobre si era também uma invenção. Como quase todo ato místico, em José Alcides
também não tinha vinculação restrita com Instituições, embora o catolicismo e,
segundo ele, o hinduísmo – pela concepção de sacralidade associada ao sexo –
seriam suas maiores referências. Mas, além de qualquer influência, me lembro de
Christopher Hill ao pensar isso, sua proximidade ao religioso valorizava a
experimentação de êxtases, aqui entendidos como sentidos que subitamente eram
construídos em sua mente, epifanias, insights.
Me parecia uma vontade de retorno à Natureza, ou estado selvagem. Então, em
1977, ele deixa os empregos públicos – professor da UFC de Comunicação Social e
tinha um cargo no MEC, onde acredito tenha conhecido Rachel de Queiroz – e foi
trabalhar no campo. Nesse momento, as aparições místicas ficam mais constantes.
Foi aí que encontrou o fóssil sideral, uma pedra, que de início imaginei ser
apenas vontade de chamar atenção. Depois, fui encontrando um conjunto de
referências no jornal O POVO sobre
isso. E a celeuma realizada com essa “pedra” pela Sociedade Cearense de
Ufologia, da qual eu nunca havia ouvido falar, com direito a análise de
funcionário da NASA. Lembrando que não somente JAP teve experiências com algo
extraterrestre entre autores cearenses. Rachel de Queiroz também publicou uma
matéria na extinta revista O Cruzeiro sobre
uma noite em que na sua fazenda Não Me
Deixes viu OVNI’s. Isso também é mística em JAP. O encontro de outra pedra
por ele chamada de Braço Primitivo, que
eu nunca vi, mas algumas pessoas me falaram que o nome se deve ao formato de
falo do monólito. Na época em que era professor de Comunicação Social da UFC,
JAP publicou alguns artigos que reforçam totalmente minha tese sobre sua busca
por princípios barrocos para sua obra. Numa publicação acadêmica, ele escrevia
sobre o nascimento de Cristo e sua morte que privou o humano de qualquer
possibilidade de conhecimento e consciência sobre o mundo. E é compreensível,
JAP se reconheceu em teóricos da linguagem das décadas de 1940 a 1970, que
haviam decretado o apocalipse da ciência, da consciência e do sentido como
produtores de saberes compreensivos das realidades do mundo. Talvez, a mística
seja a resposta de JAP aos problemas que ele achou pertinentes em tais
teóricos.
Você propõe que a morte
de José Alcides (em 2008) pode ser alegoriacamente tomada como a morte de um
certo olhar sobre o Ceará. Que outros Cearás a atual literatura cearense vem
criando? Ou não vem? Essa é uma preocupação de seu interesse?
São outros Cearás na medida em que se escreve,
fala e vê espaços além do sertão. José Alcides pensou-se como último
representante do sertanejo, assim como do delírio, do fantástico. Acredito que
as imagens do Ceará são pintadas atualmente em tons mais idílicos, urbanos e
litorâneos. Mas devo confessar que conheço pouco da literatura cearense mais
recente, especificamente conheço a dos amigos que propuseram esta entrevista
(risos). Minha reflexão no terceiro capítulo foi tentar situar JAP na década de
1980, quando sua imagem pública torna-se foco de interesse. E então, tento
compreendê-lo no Ceará que começava a defender o turismo como possibilidade
econômica. Em grande medida, minha defesa pela percepção de outros Cearás se
coaduna com a defesa do moderno, entendido como o novo, a passagem do tempo, a
ação contra a nostalgia, defendida já por Durval Muniz. Continuo acreditando
nisso. Tenho pensado, contudo, que se faz cada vez mais necessário um retorno
dos historiadores ao Regionalismo, na busca de outras problematizações sobre
esse moderno, sobre como ele está ganhado forma, especialmente nos ambientes
tidos como sertanejos cearenses. Com a chamada Revolução Verde, das
multinacionais do agronegócio, esses espaços são tidos atualmente como oásis da
produtividade agrícola, mas a que preço? Quando se escuta, por exemplo, Raquel
Rigotto mostrando os dados da contaminação pelo uso dos venenos agrícolas nas
regiões do agronegócio, percebo que não devamos mais nos responsabilizar apenas
pela crítica da Indústria da Seca, das imagens de terra maldita e atrasada, mas
também pelas modernidades e modernizações atualmente grassadas pelos sertões.
Os dados parecem apocalípticos e nossa negligência, digo, de historiadores que
se preocupam com os sertões, é imensa. Os regionalistas, especialmente os
situados pós-1950, já vigiavam as experiências modernizadoras do sertão, como a
substituição do trabalho braçal pela máquina, o lucro como sentido único de
compreensão do espaço – o que tem sido comum nas falas governamentais com os
conceitos de produção e empregabilidade. O sentimento nostálgico não nos ajuda
a pensar a questão, mas, além deste, há outros pólos de reflexão ainda pouco
explorados nos quais podemos nos concentrar.
* Entrevista concedida do escritor Dércio Braúna, via e-mail.
FRANCISCO FRANCIJÉSI
FIRMINO é historiador, graduado pela Universidade Estadual do Ceará, em
Limoeiro do Norte [Fafidam/UECE], e mestre pela Universidade Federal do Rio
Grande do Norte. Trabalhou como professor substituto do curso de História da UECE
e atualmente é professor efetivo da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte. Desenvolve pesquisas sobre temáticas relacionadas a literatura,
historiografia, construções identitárias e espaço. É autor de Alegorias da Maldição: a escrita fantástica
de José Alcides Pinto e o Ceará, 1960-80 [Edições Demócrito Rocha, 2012].
![Kaya [revista de atitudes literárias]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj53KCYrivHECqqO26xHYdnNu6l7BBoOkiq2u5Q7tHbpT9LG3ej4lRE7bSRhvslLSWLbcfrbS-LDvckISzaQSaSQ2cDXvgpuf0igM6yX2hPtrI1bmemxWWqypRFebthMUlAcrgqKrHXGfFM/s1600/Kaya+Cabe%25C3%25A7alho.jpg)